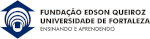A Infância Marginal e o Governo do (Im)Possível
DOI:
https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v18i1.6949Palavras-chave:
genealogia, infância marginal, psicanálise.Resumo
As crianças passaram a ser fonte de interesse e preocupação social e política a partir do advento da modernidade. A criação de legislação para o cuidado da infância surge para tentar resolver o problema das crianças que se encontravam fora da norma, que estavam à margem do padrão médio, o qual se denomina, neste trabalho, de infância marginal. Busca-se resgatar a história dessa infância no Brasil e trazer à tona a trama discursiva acerca das relações de poder e de saber, na modernidade e na contemporaneidade, que engendram ideias e práticas sobre as crianças marginais. A partir desse levantamento, pôde-se perceber que as propostas de governamentalidade da infância marginal fracassam continuamente, bem como o uso de práticas violentas e segregatórias que retornam o tempo todo no trato com essas crianças. Para se analisar tais achados, desenvolve-se uma hipótese das intenções públicas para com a infância marginal, estendendo-se às políticas e práticas atuais, como as de investimento na primeira infância. Por fim, propõe-se um direcionamento para pensar uma forma possível de cuidado com a infância marginal.
Downloads
Referências
Ariès, P. (1981). História social da criança e da família (2a ed., Dora Flaksman, Trad.). Rio de Janeiro: Zahar Editores.
Askofaré, S. (2009). Aspectos da Segregação. A peste, 1(2), 345-354.
Betts, J. A. (2010). Missão impossível? Sexo, educação e ficção científica. In A. Jerusalinsky, C. Melman, C. Calligaris, E. Tavares, E. Calligaris, F. Becker, S. Moraes et al. Educa-se uma criança? (pp. 47-62). Porto Alegre: Artes e Ofícios.
Bousseyroux, M. (2013). Práticas do impossível e a teoria dos discursos. A peste, 4(1), 101-112.
Calligaris, C. (2016). Jovens assassinos: maças podres ou “vítimas” de uma infância infeliz? Folha de São Paulo. Recuperado de http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2016/09/1815499-jovens-assassinos-macas-podres-ou-vitimas-de-uma-infancia-infeliz.shtml
Carvalho, A. F. (2015). Por uma ontologia política da (d)eficiência no governo da infância. In H. Resende, (Org.). Michel Foucault: o governo da infância. Belo Horizonte: Autêntica.
Ceccim, R. B., & Palombini, A. de L. (2009). Imagens da infância, devir-criança e uma formulação à educação do cuidado. In M. S. Maia. Por uma ética do cuidado (pp. 135-143). Rio de Janeiro: Garamond.
Corso, M. (2010). A criança na via pública. In A. Jerusalinsky, C. Melman, C. Calligaris, E. Tavares, E. Calligaris, F. Becker, S. Moraes et al, Educa-se uma criança?(pp. 133-142) Porto Alegre: Artes e Ofícios.
Couto, R. (2008). O que pode a clínica psicanalítica contra a violência da Segregação: comentário de um caso clínico. Comunicação oral apresentada no III Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e IX Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, Niterói.
Enriquez, E. (2004). O outro, semelhante ou inimigo? In A. Novaes (Org), Civilização e Barbárie (pp. 45 – 59). São Paulo: Companhia das Letras.
Ferreira, A. B. H. (1988). Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa (p. 352). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Foucault, M. (1994). Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique – Pré-face. In M. Foucault, Dits et écrits (Vol. 1, pp. 159-167). Paris: Gallimard. (Texto original publicado em 1954-1969).
Foucault, M. (1996). What is critique? In J. Schmidt (Ed.), What is Enlightenment? Eighteenth-Century answers and Twentieth-Century questions (pp. 382-398). Berkeley: University of California Press.
Foucault, M. (2008) Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes. (Curso no Collège de France, 1977-1978).
Foucault, M. (2011). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal. (Obra original publicada em 1979).
Freud, S. (1976a). Psicologia de grupo e análise do eu. In S. Freud Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas (Vol. 18, pp. 89-169). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1921).
Freud, S. (1976b). Totem e Tabu. In S. Freud, Edição Standard das Obras Psicológicas completas (Vol 19, pp. 13-163). Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1913).
Freud, S. (1976c). Mal estar na civilização. In S. Freud, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas (Vol. 21, pp. 75-174). Rio de Janeiro: Imago Editora. (Obra original publicada em 1929).
Freud, S. (1980). Uma criança é espancada - uma contribuição ao estudo da origem das perversões sexuais. In S. Freud, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas (J. Salomão, trad., Vol. 17, pp. 225-253). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1919).
Garcia-Roza, L. A. (1995). Introdução à metapsicologia freudiana (Vol 3). Rio de Janeiro: Zahar.
Gomes, C. M. G., & Lima, M. C. P. (2012). Psicanálise e inclusão escolar: considerações acerca dos atuais discursos e da equação família e escola. Trabalho apresentado no Encontro Retratos do Mal-Estar Contemporâneo na Educação, São Paulo. Recuperado de http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC00000000320 12000100038&lng=en&nrm=abn
Kupfer, M. (2005). Inclusão escolar: a igualdade e a diferença vistas pela psicanálise. In F. Coli, & M. Kupfer (Orgs.). Travessias inclusão escolar: A experiência do grupo ponte – pré-escola terapêutica lugar de vida. São Paulo: Caso do Psicólogo.
Lacan, J. (1985). Os complexos familiares na formação do indivíduo, ensaio de análise de uma função em Psicologia. Rio de Janeiro: Zahar. (Trabalho original publicado em 1938).
Lacan, J. (1992). O Seminário, livro 17 – O avesso da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Obra original publicada em 1969-70).
Marafon, G. (2014). A maquinaria judicializante e o governo de infâncias desiguais. Psicologia em Estudo, 19(3), 515-526.
Melman, C. (2010). Sobre a educação das crianças. In A. Jerusalinsky, C. Melman, C. Calligaris, E. Tavares, E. Calligaris, F. Becker, S. Moraes et al. Educa-se uma criança? (pp. 31-42). Porto Alegre: Artes e Ofícios.
Narodowaski, M. (2001). Infância e poder: Conformação da pedagogia moderna. (Mustafá Yasbek, Trad.). Bragança Paulista: Ed. USF.
Pacheco, A. L. P. (2015). A criança como sintoma: mal estar no Brasil. Trabalho apresentado na Jornada “El psicoanálisis en la crisis del lazo social”, Buenos Aires. Recuperado de https://psicanaliseautismoesaudepublica.files.wordpress.com/2015/06/a_crianc3a7a_como_sintoma_analaurapratespacheco.pdf
Postman, N. (1999). O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia.
Rezende, H. (2015). A infância sob o olhar da Pedagogia: Traços da escolarização na Modernidade. In H. Resende (Org.), Michel Foucault: O governo da infância. Belo Horizonte: Autêntica.
Rizzini, I., & Pilotti, F. (2009). A Arte de Governar crianças: A história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil (2a ed.). São Paulo: Cortez.
Rohenkohl, C. M. F. (1997). O questionamento da prevenção em psicanálise e a possibilidade da antecipação como forma de uma intervenção analítica com profissionais de outras áreas. Recuperado de http://www.oocities.org/hotsprings/villa/3170/Rohenkohl.htm
Rosa, M. D., & Lacet, C. (2012). A criança na contemporaneidade: Entre saber e gozo. Estilos da clínica, 17(2), 359-372.
Sarmento, M. J. (2007). Visibilidade social e estudo da infância. In V. M. R. Vasconcellos, & M. J. Sarmento (Org.), Infância (in)visível (pp. 25-52). São Paulo: Junqueira & Marin.
Soler, C. (1998). Sobre a segregação. In C. Soler. O brilho da infelicidade (pp.43-54). Rio de janeiro: Contra-capa. (Obra original publicada em 1994).
Taleb, N. (2009). A lógica do cisne negro: o impacto do altamente improvável. Rio de Janeiro: Best Seller.
Voltolini, R. (2005). A inclusão é não toda. In F. Coli & M. Kupfer (Orgs.), Travessias inclusão escolar: a experiência do grupo ponte – pré-escola terapêutica lugar de vida. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Zornig, S. (2000). A Criança e o Infantil em Psicanálise. São Paulo: Escuta.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Para autores: Cada manuscrito deverá ser acompanhado de uma “Carta de submissão” assinada, onde os autores deverão declarar que o trabalho é original e inédito, se responsabilizarão pelos aspectos éticos do trabalho, assim como por sua autoria, assegurando que o material não está tramitando ou foi enviado a outro periódico ou qualquer outro tipo de publicação.
Quando da aprovação do texto, os autores mantêm os direitos autorais do trabalho e concedem à Revista Subjetividades o direito de primeira publicação do trabalho sob uma licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY), a qual permite que o trabalho seja compartilhado e adaptado com o reconhecimento da autoria e publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores têm a possibilidade de firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva da versão publicada na Revista Subjetividades (por exemplo, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-la em um livro), com o reconhecimento de sua publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores concedem, ainda, à Revista Subjetividades uma licença não exclusiva para usar o trabalho da seguinte maneira: (1) vender e/ou distribuir o trabalho em cópias impressas ou em formato eletrônico; (2) distribuir partes ou o trabalho como um todo com o objetivo de promover a revista por meio da internet e outras mídias digitais e; (3) gravar e reproduzir o trabalho em qualquer formato, incluindo mídia digital.
Para leitores: Todo o conteúdo da Revista Subjetividades está registrado sob uma licença Creative Commons Atribuição (CC-BY) que permite compartilhar (copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato) e adaptar (remixar, transformar e criar a partir do material para qualquer fim) seu conteúdo, desde que seja reconhecida a autoria do trabalho e que esse foi originalmente publicado na Revista Subjetividades.