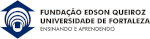Contribuições da Teoria Bioecológica para os Estudos sobre Mediunidade no Brasil
DOI:
https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v23iEsp.%201.e12516Palavras-chave:
mediunidade de incorporação, umbanda, candomblé, espiritismo, psicologia do desenvolvimento.Resumo
Na literatura científica nem sempre a mediunidade e suas diferentes expressões foram consideradas categorias culturais e religiosas, predominando posicionamentos que as associavam ao adoecimento psíquico. A Psicologia do Desenvolvimento, nesse sentido, pode contribuir para a emergência de posicionamentos que não mais promovam estigmatizações e intolerância em relação às pessoas que manifestam a mediunidade. O objetivo desta investigação é destacar as principais contribuições da teoria bioecológica do desenvolvimento para os estudos sobre a mediunidade no Brasil. Foram entrevistados 61 médiuns de diferentes centros religiosos da umbanda, do candomblé e do espiritismo kardecista localizados em três cidades do interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Foram identificadas nas narrativas dos médiuns elementos da teoria bioecológica – pessoa, processo, contexto e tempo – bem como discutidas as noções de transição ecológica para a compreensão das trajetórias de vida e a de inserção ecológica para refletir sobre o papel do pesquisador nesse contexto de investigação. Os dados deste estudo revelam a necessidade de revisões e aprimoramentos do referencial, sobretudo em termos da inserção ecológica, para permitir o acesso ao campo e aos interlocutores em uma exploração sistêmica do fenômeno da mediunidade. A dimensão pessoa também pode ser revista para abarcar não apenas as demandas, os recursos e as disposições do(a) médium, mas das entidades/orixás por eles(as) incorporados durante o transe de possessão, elementos que se cravam na descrição de quem é esse(a) médium em termos de suas características bioecológicas. Para além dessas recomendações, destaca-se que a teoria bioecológica tem contribuído para uma investigação da mediunidade do ponto de vista desenvolvimental, com foco em processos de mudança e permitindo a emergência de uma inteligibilidade comprometida com o cotejamento desse fenômeno em resposta aos posicionamentos racistas, preconceituosos e intolerantes que tradicionalmente marcaram o estudo da mediunidade no contexto brasileiro e também o cuidado a esses médiuns.Downloads
Referências
Alminhana, L. O., & Menezes Júnior, A. (2016). Experiências religiosas/espirituais: dissociação saudável ou patológica? Horizonte, 14(41), 122-143. https://doi.org/10.5752/P.2175-5841.2016v14n41p122
Augras, M. (1983). O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô. Vozes.
Augras, M. (2012). A segunda-feira é das almas. Pallas e Editora da PUC-Rio.
Bastide, R. (2016). O sonho, o transe e a loucura. (C. E. M. Moura, Trad.). Três Estrelas.
Bronfenbrenner, U. (2002). A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e planejados (M. A. V. Veronese, Trad.). Artmed. Original publicado em 1979.
Bronfenbrenner, U. (2011). Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando os seres humanos mais humanos. Artmed.
Camargo, A. F. G., Scorsolini-Comin, F., & Santos, M. A. (2018). A feitura do santo: percursos desenvolvimentais de médiuns em iniciação no candomblé. Psicologia & Sociedade, 30, e189741. https://doi.org/10.1590/1807-0310/2018v30189741
Delmonte, R., Lucchetti, G., Moreira-Almeida, A., & Farias, M. (2016). Can the DSM-5 differentiate between nonpathological possession and dissociative identity disorder? A case study from an Afro-Brazilian religion. Journal of Trauma & Dissociation, 17(3), 322-337. https://doi.org/10.1080/15299732.2015.1103351
Favret-Saada, J. (2005). Ser afetado. Cadernos de Campo, 13, 155-161.
Fernandes, H. C. D., & Zanello, V. (2020). Escutar (as) vozes: da qualificação da experiência à possibilidade de cuidado. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 36, e3643. https://doi.org/10.1590/0102.3772e3643
Godoy, D. B. O. A., & Bairrão, J. F. M. H. (2014). A psicanálise aplicada à pesquisa social: a estrutura moebiana da alteridade na possessão. Psicologia Clínica, 26, 47-68. https://doi.org/10.1590/S0103-56652014000100005
Kleinman, A. (1980). Patients and healers in the contexto of culture. University of California Press.
Koller, S. H. (Org.). (2011). Ecologia do desenvolvimento humano: pesquisa e intervenção no Brasil (2ª ed.). Casa do Psicólogo.
Koller, S. H., Morais, N. A., & Paludo, S. S. (Eds.). (2016). Inserção ecológica: Um método de estudo em desenvolvimento humano. Casa do Psicólogo.
Laplantine, F. (2010). Antropologia da doença (4ª ed., V. L. Siqueira, Trad.). Martins Fontes.
Laplantine, F., & Aubrée, M. (1990). La table, livre et les esprits: naissance, évolution et atualité du mouvement social spirite entre France et Brésil. J. C. Lattès.
Macedo, A. C. (2015). Encruzilhadas da interpretação na umbanda. (Tese de Doutorado em Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo).
Mantovani, A., & Bairrão, J. F. M. H. (2009). Saúde e doença como categorias éticas na umbanda: estudo de caso em um terreiro de Ribeirão Preto - SP. In M. V. Cunha, S. R. Pasian & G. Romanelli (Orgs.), Pesquisas em Psicologia: múltiplas abordagens (pp. 265-288). Vetor.
Maraldi, E. O., & Zangari, W. (2015). “Em transe”: um estudo quali-quantitativo sobre o papel das experiências dissociativas e somatoformes nas crenças e rituais religiosos. Boletim - Academia Paulista de Psicologia, 35, 382-408.
McCarthy-Jones, S., Thomas, N., Strauss, C., Dogdson, G., Jones, N., ... & Sommer, I. E. (2014). Better than mermaids and stray dogs? Subtyping auditory verbal hallucinations and its implications for research and practice. Schizophrenia Bulletin, 40(4), S275-S284. https://doi.org/10.1093/schbul/sbu018
Montero, P. (1985). Da doença à desordem: a magia na umbanda. Graal.
Moreira-Almeida, A. (2013). Pesquisa em mediunidade e relação mente-cérebro: revisão das evidências. Revista Psiquiatria Clínica, 40(6), 233-240. https://doi.org/10.1590/S0101-60832013000600005
Ortiz, R. (1999). A morte branca do feiticeiro negro: Umbanda e sociedade brasileira. Brasiliense.
Pessoa, A. S. G., & Scorsolini-Comin, F. (2020). Pesquisas com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social no Brasil: debates inacabados e novos dilemas. Revista da SPAGESP, 21(1), 1-5.
Rabelo, M. C. (2014). Enredos, feituras e modos de cuidado: dimensões da vida e da convivência no candomblé. EDUFBA.
Scalon, E. F., Scorsolini-Comin, F., & Macedo, A. C. (2020). A compreensão dos processos de saúde-doença em médiuns de incorporação da umbanda. Subjetividades, 20(2), e10003. https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v20i2.e10003
Scorsolini-Comin, F., Bairrão, J. F. M. H., & Santos, M. A. (2017). Com a licença de Oxalá: a ética na pesquisa etnopsicológica em comunidades religiosas. Revista da SPAGESP, 18(2), 86-99.
Scorsolini-Comin, F., & Campos, M. T. A. (2017). Narrativas desenvolvimentais de médiuns da umbanda à luz do modelo bioecológico. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 17(1), 364-385. https://doi.org/10.12957/epp.2017.35213
Scorsolini-Comin, F., Godoy, H. V., & Gaia, R. S. P. (2020). Sentidos sobre a mediunidade nos candomblés Ketu e Efón. Cultura & Religión, XIV(2), 36-55.
Scorsolini-Comin, F., Ribeiro, A. C. S., & Gaia, R. S. P. (2020). Tradição e socialização nos terreiros de candomblé de Uberaba-MG: análise bioecológica dos percursos religiosos. Psicologia & Sociedade, 32, e223042. http://doi.org/10.1590/1807-0310/2020v32223042
Silva, L. M. F., & Scorsolini-Comin, F. (2020). Na sala de espera do terreiro: uma investigação com adeptos da umbanda com queixas de adoecimento. Saúde e Sociedade, 29(1), e190378. https://doi.org/10.1590/s0104-12902020190378
Silva, V. G. (Org.) (2015). Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. EDUSP.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2022 Revista Subjetividades

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Para autores: Cada manuscrito deverá ser acompanhado de uma “Carta de submissão” assinada, onde os autores deverão declarar que o trabalho é original e inédito, se responsabilizarão pelos aspectos éticos do trabalho, assim como por sua autoria, assegurando que o material não está tramitando ou foi enviado a outro periódico ou qualquer outro tipo de publicação.
Quando da aprovação do texto, os autores mantêm os direitos autorais do trabalho e concedem à Revista Subjetividades o direito de primeira publicação do trabalho sob uma licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY), a qual permite que o trabalho seja compartilhado e adaptado com o reconhecimento da autoria e publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores têm a possibilidade de firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva da versão publicada na Revista Subjetividades (por exemplo, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-la em um livro), com o reconhecimento de sua publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores concedem, ainda, à Revista Subjetividades uma licença não exclusiva para usar o trabalho da seguinte maneira: (1) vender e/ou distribuir o trabalho em cópias impressas ou em formato eletrônico; (2) distribuir partes ou o trabalho como um todo com o objetivo de promover a revista por meio da internet e outras mídias digitais e; (3) gravar e reproduzir o trabalho em qualquer formato, incluindo mídia digital.
Para leitores: Todo o conteúdo da Revista Subjetividades está registrado sob uma licença Creative Commons Atribuição (CC-BY) que permite compartilhar (copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato) e adaptar (remixar, transformar e criar a partir do material para qualquer fim) seu conteúdo, desde que seja reconhecida a autoria do trabalho e que esse foi originalmente publicado na Revista Subjetividades.