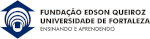Estigma e Construção do Território de Pessoas Privadas de Liberdade e seus Familiares
DOI:
https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v20iEsp1.e8776Palavras-chave:
prisão, estigma, território, encarceramento, relações familiares.Resumo
Este estudo qualitativo, de caráter exploratório-descritivo, teve por objetivo discutir a circulação dos familiares dos presos na prisão e na comunidade, bem como refletir sobre a construção desses territórios e o estigma. O procedimento de coleta de informações se deu em dois momentos distintos: o primeiro abarcou observações dos participantes nos dias destinados à entrada de crianças na instituição e o segundo compreendeu a realização de entrevistas semiestruturadas com 12 apenados, que estavam privados de liberdade por, no mínimo, seis meses, e seus pais. A análise das informações coletadas se deu por meio da análise crítica do discurso. Os resultados identificaram que o elo crime-prisão está longe de ser linear, tampouco o é a relação entre o que está dentro e o que está fora do espaço da prisão, porque, em decorrência do contágio do estigma, os familiares dos indivíduos privados de liberdade estão sempre subjetivamente na categoria dentro, ainda que fora fisicamente.Downloads
Referências
Bassani, F. (2016). Visita Íntima: Sexo, crime e negócios nas prisões. Porto Alegre: Bestiário.
Buoro, A. B. (1998). A cabeça fraca: Familiares de presos frente aos dilemas da percepção dos direitos humanos. Revista USP, 37, 70-81.
Caldeira, T. (2000). Cidade de muros: Crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Edusp.
Cerneka, H. A. (2009). Homens que menstruam: Considerações acerca do sistema prisional às especificidades da mulher. Veredas do Direito, 6(11), 61-78.
Coimbra, C. (2006). Direitos Humanos e Criminalização da Pobreza. Trabalho apresentado em Mesa Redonda: Direitos Humanos e Criminalização da Pobreza. In I Seminário Internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro, Brasil.
Conselho Nacional de Saúde. (2016). Resolução do Conselho Nacional de Saúde 510/2016. Link
Cunha, M. I. (2002). Entre o bairro e a prisão: Tráfico e trajetos. Lisboa: Fim de século.
Cunha, M. I. (2008). Prisão e sociedade: Moralidades de uma conexão. In M. I. Cunha (Org.). Aquém e além da prisão: Cruzamentos e perspectivas (pp. 7-32). Lisboa: Noventa graus.
Elias, A., & Scotson, J. L. (2000). Os estabelecidos e os “outsiders”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
Foucault, M., (2001). Outros espaços. In M. B. Motta (Org.), Estética: literatura e pintura, música e cinema (pp. 411-422). Rio de Janeiro: Forense Universitária.
Foucault, M. (2004). Vigiar e Punir: Nascimento da prisão (R. Ramalhete, Trad.). Petrópolis, RJ: Vozes. (Original publicado em 1975)
Franco, R. F., & Van Stralen, C. J. (2012). O espaço de habitação e sua importância para a produção de subjetividade. Psicologia em Revista, 18(3), 402-419.
Goffman, E. (1982). Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar.
Guimarães, C. F., Meneghel, S. N., & Oliveira, C. S. (2006). Subjetividade e estratégias de resistência na prisão. Psicologia Ciência e Profissão, 26(4), 632-645.
Hairston, C. F. (2003). Prisoners and their families: Parenting issues during incarceration. In J. Travis & M. Waul (Eds.). Prisoners once removed: The impact of incarceration and reentry on children, families and communities (pp. 259-282). Washington, DC: Urban Institute Press.
Lei n. 7210, de 10 de julho de 1984 (1984). Institui a Lei de Execução Penal. Link
Lermen, H. S. (2015). Amor e maternidade no cárcere: Mulheres que têm filhos com homens encarcerados. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.
Lima, E. M. F. A., & Yasui, S. (2014). Territórios e sentidos: Espaço, cultura, subjetividade e cuidado na atenção psicossocial. Saúde em Debate, 38(102), 593-606.
Matsuda, F. E. (2009). A medida da maldade: Periculosidade e controle social no Brasil. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.
Miyamoto, Y., & Krohling, A. (2012). Sistema prisional brasileiro sob a perspectiva de gênero: Invisibilidade e desigualdade social da mulher encarcerada. Direito, Estado e Sociedade, 40, 223-241.
Rauter, C. (2007). Clínica e estratégias de resistência: Perspectivas para o trabalho do psicólogo em prisões. Psicologia & Sociedade, 19(2), 42-47.
Rudnicki, D., & Santos, C. C. D. (2015). Percepções sobre o direito de visita no Presídio Central de Porto Alegre. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 115(23), 311-333.
Sabaini, R. T. (2011). Uma cidade entre presídios: Percepções acerca de um contínuo entre a prisão e o urbano. Sociedade e Território, 23(2), 21-37.
Santos, M. (1998). O retorno do território. In M. Santos, M. A. Souza & M. L. Silveira (Orgs.), Território: Globalização e fragmentação (pp. 15-20). São Paulo: Hucitec.
Silva, M. F., & Guzzo, R. S. L. (2007). Presidiários: Percepções e sentimentos acerca de sua condição paterna. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 17(3), 48-59.
Silva, R. E., & Magalhães, C. A. T. (2007). Famílias sentenciadas: Um estudo sobre o impacto da pena sobre as famílias dos presos. Revista Iniciação Científica, 6, 90-100.
Souza, M. A. A. de. (1998). Geografias da desigualdade: Globalização e fragmentação. In M. Santos, M. A. Souza, M. L. Silveira (Orgs.). Território: Globalização e fragmentação (pp. 21-28). São Paulo: Hucitec.
Techera, J., Garibotto, G., & Urreta, A. (2012). Los “hijos de los presos”: Vínculo afectivo entre padres privados de liberdad y sus hijos/as. Avances de un estudio exploratorio. Ciencias Psicológicas, 6(1), 57-74.
Ugelvik, T. (2014). Paternal pains of imprisonment: Incarcerated fathers, ethnic minority masculinity and resistance narratives. Punishment & Society, 16(2), 152-168.
Van Dijk, T. A. (2008). Discurso e poder. São Paulo: Contexto.
Vilhena, J. (2002). Da cidade onde vivemos a uma clínica do território. Lugar e produção de subjetividade. Pulsional Revista de Psicanálise, 163, 48-54.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Para autores: Cada manuscrito deverá ser acompanhado de uma “Carta de submissão” assinada, onde os autores deverão declarar que o trabalho é original e inédito, se responsabilizarão pelos aspectos éticos do trabalho, assim como por sua autoria, assegurando que o material não está tramitando ou foi enviado a outro periódico ou qualquer outro tipo de publicação.
Quando da aprovação do texto, os autores mantêm os direitos autorais do trabalho e concedem à Revista Subjetividades o direito de primeira publicação do trabalho sob uma licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY), a qual permite que o trabalho seja compartilhado e adaptado com o reconhecimento da autoria e publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores têm a possibilidade de firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva da versão publicada na Revista Subjetividades (por exemplo, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-la em um livro), com o reconhecimento de sua publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores concedem, ainda, à Revista Subjetividades uma licença não exclusiva para usar o trabalho da seguinte maneira: (1) vender e/ou distribuir o trabalho em cópias impressas ou em formato eletrônico; (2) distribuir partes ou o trabalho como um todo com o objetivo de promover a revista por meio da internet e outras mídias digitais e; (3) gravar e reproduzir o trabalho em qualquer formato, incluindo mídia digital.
Para leitores: Todo o conteúdo da Revista Subjetividades está registrado sob uma licença Creative Commons Atribuição (CC-BY) que permite compartilhar (copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato) e adaptar (remixar, transformar e criar a partir do material para qualquer fim) seu conteúdo, desde que seja reconhecida a autoria do trabalho e que esse foi originalmente publicado na Revista Subjetividades.