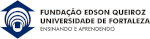Compreendendo o Amor e suas Expressões em Diferentes Etapas do Desenvolvimento
DOI:
https://doi.org/10.5020/23590777.rs.v19i3.e9529Keywords:
amor, interação interpessoal, estágios de desenvolvimento.Abstract
O presente estudo teve como objetivo investigar a percepção do amor, compreendendo como esse sentimento é vivenciado nas relações amorosas em diferentes etapas do desenvolvimento – adolescência, adultez e velhice. Utilizou-se um delineamento exploratório, de abordagem qualitativa e transversal. Foram selecionados por conveniência nove adolescentes, nove adultos e oito idosos, que estavam em um relacionamento amoroso há, no mínimo, seis meses. Todos responderam a uma entrevista semiestruturada, que versava sobre a percepção do amor e como era vivenciado em seu relacionamento. A análise de conteúdo dos dados indicou diferenças e semelhanças entre as etapas investigadas. Em todas elas o amor foi associado ao apoio, cuidado, respeito e confiança, bem como sua vivência evidenciada pela troca de carinhos. Especificamente na adolescência, os relatos apontaram para um amor com características mais efêmeras, porém os participantes destacaram que estavam aprendendo a se relacionar. Entre os adultos se evidenciou um amor caracterizado como sólido e maduro, além do compartilhamento de sonhos e planos para o futuro. Já os idosos relataram que percebiam o amor como cuidado, principalmente devido ao medo da perda do parceiro. Evidenciou-se que a forma como o amor é percebido e vivenciado não está relacionada especificamente à idade, mas às experiências de vida e à relação que se constrói com o/a parceiro/a. Espera-se que os resultados encontrados promovam a reflexão sobre o amor e suas vivências nos relacionamentos atuais e que sirvam de subsídio para fundamentar intervenções que tenham como objetivo fomentar a qualidade das relações afetivas.Downloads
References
Almeida, T., & Lourenço, L. (2008). Amor e sexualidade na velhice: Direito nem sempre respeitado. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, 5(1), 130-140. doi: 10.5335/rbceh.2012.104
Alves, A., Alencar, H., & Ortega, A. (2014). Moralidade e concepção de amor em crianças de 6 e 9 anos. Revista Psicopedagogia, 31(94), 21-34.
Andrade, A., & Garcia, A. (2014). Escala de crenças sobre amor romântico: Indicadores de validade e precisão. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 30(1), 63-71. doi: 10.1590/S0102-37722014000100008
Antonucci, T., Akiyama, H., & Takahashi, K. (2004). Attachment and close relationships across the life span. Attachment & Human Development, 6(4), 353-370. doi: 10.1080/1461673042000303136
Araújo, L. M. (2011). Amor e violência: um paradoxo das relações de namoro e do ‘ficar’ entre jovens brasileiros. Rio de Janeiro: Fiocruz. doi: 10.1590/S1413-81232012000900035
Assunção, V. (2016). Migrantes por amor? Ciclo de vida, gênero e a decisão de migrar em diferentes fases da vida. Revista de Estudos Feministas, 24(1), 63-80. doi: 10.1590/1805-9584-2016v24n1p63
Bauman, Z. (2003). Amor líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar.
Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo (A. Pinheiro & L. A. Reto, Trad.). Lisboa: edições 70.
Bielski, D., & Zordan, E. (2014). Sentimentos predominantes, após o término do relacionamento amoroso, no início da adultez jovem. Perspectiva, 38(144), 17-24.
Costa, V., & Fernandes, S. (2012). O que pensam os adolescentes sobre o amor e o sexo? Um estudo na perspectiva das representações sociais. Psicologia &Sociedade, 24(2), 391-401. doi: 10.1590/S0102-71822012000200017
Dias, A. R, Machado, C., Gonçalves, R. A., & Manita, C. (2014). Discursos socioculturais sobre o amor em Portugal: um percurso geracional? Revista Psicologia, 28(1), 1-18.
Fonseca, S. R. A., & Duarte, C. M. N. (2014). Do namoro ao casamento: Significados, expectativas, conflito e amor. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 30(2), 135-143. doi: 10.1590/S0102-37722014000200002
Freud, S. (1987a). Observações sobre o amor transferencial (novas recomendações sobre a técnica da psicanálise). In S. Freud, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas (vol. XII). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1914).
Freud, S. (1987b). Os instintos e suas vicissitudes. In S. Freud, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas (vol. XIV). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1915).
Fromm, E. (1966). A arte de amar. Belo Horizonte: Itatiaia.
García, F. E, Zárate, R. F., & Sánchez, A. S. (2016). Amor, satisfaccion em la pareja y resolución de conflitos en adultos jovenes. Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBSP, 14(2), 284-302.
Hatfield, E. (1988). Passionate and companionate love. In R. J. Sternberg & N. Barnes (Org.), The psychology of love (pp. 191- 217). New Haven, Conn.: Yale University Press.
Hatfield, E., & Sprecher, S. (1986). Measuring passionate love in intimate relationships. Journal of Adolescence, 9, 383-410. doi: 10.1016/S0140-1971(86)80043-4
Hernandez, J. A. E. (2016). Análise fatorial exploratória e hierárquica da Escala Triangular do Amor. Avaliação Psicológica, 15(1), 11-20.
Hernandez, J. A. E., & Oliveira, I. M. B. (2003). Os componentes do amor e a satisfação. Psicologia Ciência e Profissão, 23(1), 58-69. doi: 10.1590/S1414-98932003000100009
Hernandez, J. A. E., Plácido, M. G., Araújo, A. L., Neves, F. V. C., & Azevedo, C. A. da C. B. (2014). A Psicologia do amor: Vinte anos de estudos científicos nacionais. Psicologia Argumento, 32(79), 131-139. doi: 10.7213/psicol.argum.32.s02.AO12
Hernandez, J. A. E. (2015). Evidências de validade de construto da escala de componentes do amor. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 31(2), 249-257.
Hernandez, J. A. E., Costa, S. V., Ribeiro, J. R., Areias, C. A., & Santos, K. N. V. (2015). Autorrelatos do amor no ciclo vital adulto. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 15(2), 747-763.
Honneth, A. (2015). Direito da liberdade. São Paulo: Martins Fontes.
Jesus, J. S. O. (2005). Ficar ou namorar: Um dilema juvenil. Psic: Revista da Vetor Editora, 6(1), 67-73.
Junqueira, T., & Mello, D. (2012). O mito do amor romântico e a violência de gênero: Distanciamentos e aproximações nas vozes de meninas e meninos adolescentes. Disponível em: http://www.unicap.br/jubra/wp-content/uploads/2012/10/TRABALHO-24.pdf
Karwowski-Marques, A. P. (2008). Percepção sobre o amor, a qualidade e satisfação com o relacionamento em casais. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS.
Lee, J. A. (1973). Colours of love: An exploration of the ways of loving. Toronto: New Press.
Lee, J. A. (1974). The styles of loving. Psychology Today, 8(5), 43-51.
Lee, J. A. (1977). A typology of styles of loving. Personality and Social Psychology Bulletin, 3, 173-182.
Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Ministério da Justiça.
Lei 10.741, de 1° de outubro de 2003. Estatuto do Idoso (4a ed). Brasília: Ministério da Justiça.
Martins-Silva, P. O, Trindade, Z. A., & Silva Junior, A. (2013). Teorias sobre o amor no campo da Psicologia Social. Psicologia: Ciência e Profissão, 33, 16-31.
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.
Matsumoto, C. D., Ghellere, C. B., Cassep-Borges, V., & Falcão, D. V. da S. (2017). Love, beauty, marital satisfaction, and family relations: a study on young adult and middle-age couples. Revista Kairós - Gerontologia, 20(1), 369-388. doi: 10.23925/2176-901X.2017v20i1p369-388
Norgren, M. B. P., Souza, R. M., Kaslow, F., Hammerschmidt, H., & Sharlin, S. A. (2004). Satisfação conjugal em casamentos de longa duração: Uma construção possível. Estudos de Psicologia, 9(3), 575-584. doi: 10.1590/S1413-294X2004000300020
Oliveira, D. C, Gomes, A. M. T., Marques, S. C., & Thiengo, M. A. (2007). “Pegar”, “ficar” e “namorar”: representações sociais de relacionamentos entre adolescentes. Revista Brasileira de Enfermagem, 60(5), 497-502. doi: 10.1590/S0034-71672007000500003
Paura, M. D. C., & Gaspar, D. (2017). Os relacionamentos amorosos na era digital: Um estudo de caso do site par perfeito. Revista Estação Científica, 17, 1-19.
Pretto, Z., Maheirie, K., & Toneli, M. J. F. (2009). Um olhar sobre o amor no ocidente. Psicologia em Estudo, 14(2), 395-403. doi: 10.1590/S1413-73722009000200021
Rizzon, A. L. C., Mosmann, C. P., & Wagner, A. (2013). A qualidade conjugal e os elementos do amor: Um estudo correlacional. Contextos Clínicos, 6(1), 41-49. doi: 10.4013/ctc.2013.61.05
Robson, C. (1995). Real word research: A resource for scientist and practiotioner-researchs. Oxford, UK: Blackwell.
Rozendo, A. da S., & Alves, J. M. (2015). Sexualidade na terceira idade: Tabus e realidade. Revista Kairós Gerontologia, 18(3), 95-107.
Rubin, Z. (1970). Measurement of romantic love. Journal of Personality and Social Psychology, 16(2), 265-73. doi: 10.1037/h0029841
Schlösser, A., & Camargo, B. V. (2014). Contribuições de pesquisas brasileiras sobre o amor e relacionamentos amorosos. Temas em Psicologia, 22(4), 795-808. doi: 10.9788/TP2014.4-10
Simmell, G. (1993). Filosofia do amor (L.E.L. Brandão, Trad.). São Paulo: Martins Fontes.
Skinner, B. F. (1991). Questões recentes na análise comportamental. Campinas, SP: Papirus.
Sternberg, R. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93, 119-135. doi: 10.1037/0033-295X.93.2.119
Sternberg, R. (1989). El triangulo del amor. Buenos Aires: Paidós.
Sternberg, R. (1997). Construct validation of a triangular love scale. European Journal of Psychology, 27, 313-335. doi: 10.1002/(SICI)1099-0992(199705)27:3<313::AID-EJSP824>3.0.CO;2-4
Weis, K. (2006). Introduction. In R. J. Sternberg & K. Weis (Eds.), The new psychology of love (pp. 1-11). London: Yale University Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Para autores: Cada manuscrito deverá ser acompanhado de uma “Carta de submissão” assinada, onde os autores deverão declarar que o trabalho é original e inédito, se responsabilizarão pelos aspectos éticos do trabalho, assim como por sua autoria, assegurando que o material não está tramitando ou foi enviado a outro periódico ou qualquer outro tipo de publicação.
Quando da aprovação do texto, os autores mantêm os direitos autorais do trabalho e concedem à Revista Subjetividades o direito de primeira publicação do trabalho sob uma licença Creative Commons de Atribuição (CC-BY), a qual permite que o trabalho seja compartilhado e adaptado com o reconhecimento da autoria e publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores têm a possibilidade de firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva da versão publicada na Revista Subjetividades (por exemplo, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-la em um livro), com o reconhecimento de sua publicação inicial na Revista Subjetividades.
Os autores concedem, ainda, à Revista Subjetividades uma licença não exclusiva para usar o trabalho da seguinte maneira: (1) vender e/ou distribuir o trabalho em cópias impressas ou em formato eletrônico; (2) distribuir partes ou o trabalho como um todo com o objetivo de promover a revista por meio da internet e outras mídias digitais e; (3) gravar e reproduzir o trabalho em qualquer formato, incluindo mídia digital.
Para leitores: Todo o conteúdo da Revista Subjetividades está registrado sob uma licença Creative Commons Atribuição (CC-BY) que permite compartilhar (copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato) e adaptar (remixar, transformar e criar a partir do material para qualquer fim) seu conteúdo, desde que seja reconhecida a autoria do trabalho e que esse foi originalmente publicado na Revista Subjetividades.